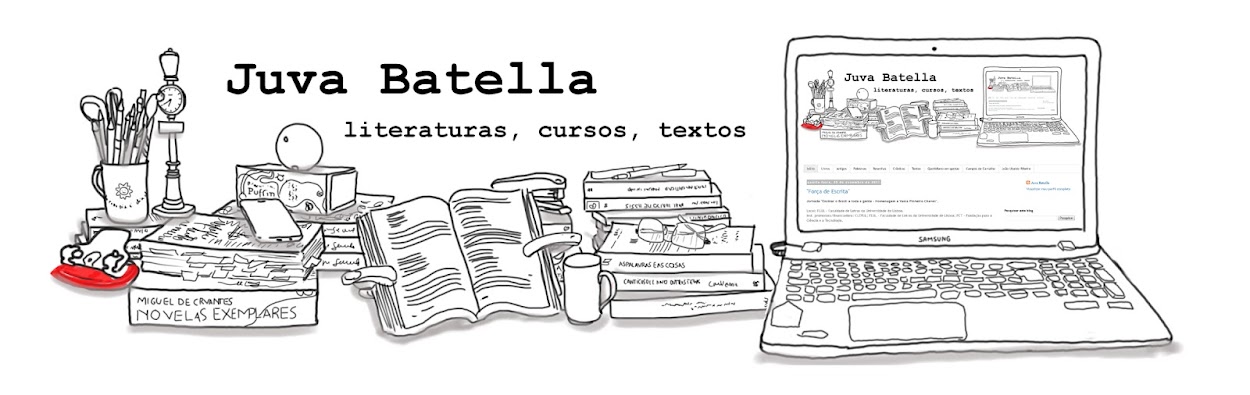“Uma vida pela metade — Com virtuosismo, o Nobel V.S. Naipaul faz
um romance de formação em que tudo dá em nada”, Caderno Idéias, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2002.
Resenha sobre o livro Meia vida, de V.S. Naipaul, ed. Companhia das Letras.
O que vem a ser uma meia vida? Uma das acepções do dicionário pertence ao campo da física nuclear e faz referência ao tempo necessário para que se reduza à metade, por desintegração, uma determinada quantidade de átomos radioactivos. Qual o tempo necessário para que se constate o esgotamento, por desintegração e falta de sentido, de uma determinada quantidade de actos humanos? O que significa olhar para trás e ver — ou não ver — significado no que foi feito? A partir de que idade já não se pode mais errar na escolha dos caminhos? O que sugerir àquele que chega à metade da vida e percebe que não viveu a sua vida? Que a recomece? Que se ponha a contá-la em detalhes, mesmo que através de meias verdades e meias palavras?
O romance Meia vida, de sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul, conhecido como V. S. Naipaul — prémio Nobel de Literatura em 2001 e autor de mais de vinte livros, entre romances, ensaios e relatos de viagem —, é um composto de três histórias deliberadamente contadas pela metade. Contá-las pela metade não significa interrompê-las a meio caminho; significa simplesmente que as vidas a que se referem se esgotaram e nada mais têm a oferecer; que perderam o sentido — se é que algum dia o tiveram — e que se perdeu, portanto, o sentido da própria narrativa. Meia vida — publicado em 2001 na Inglaterra — tem como tema a leviandade, a inconstância e o fracasso de dois homens, pai e filho, que se dispõem a contar as próprias vidas, acreditando ambos que o mero ato de as contar — e contar uma vida quer dizer olhá-la de longe e com alguma isenção — já teria por si só o condão de preenchê-las de sentido, dando-lhes razão e forma. Não é o que acontece.
O pai de Willie Chandram conta a seu filho os detalhes de sua decadência: como foi que, nos anos de 1930, na Índia, acreditando na existência romântica de alguma espécie de pequeno demónio da rebelião em si mesmo, boicotou a universidade, atendendo aos apelos de Gandhi, e chutou o balde das tradições de sua família — composta de sacerdotes fiéis ao governo e aos casamentos arranjados no interior de uma rígida estrutura de castas. Alegando combater a condição colonial e a vida de servidão que o esperava, largou o emprego, casou-se com uma mulher de casta inferior e, não sabendo mais o que fazer com a sensação de inutilidade que o assombrava, escondeu-se no interior de um voto de silêncio — um silêncio, no entanto, muito pouco eloquente. A história que o pai de Willie conta a seu filho é a história de como foi que se tornou um asceta de meia-pataca.
Um narrador em terceira pessoa conta-nos então a segunda história: decepcionado com o pai, o jovem Willie, indiano pela metade e filho pela metade de um pai que não é bem seu pai, vai para Londres e a conhece também pela metade — lá tornando-se inglês pela metade e pela metade um escritor de peças radiofónicas para a BBC. Começa a escrever ficção, mas seus contos não passam de reescrituras reclimatizadas de velhas histórias de cinema. Publica, mesmo assim, um livro de que não gosta, participa pelas beiradas do fechado círculo de artistas da cidade, inventa um passado grandioso para seus antepassados, mente sobre o pai, sobre a mãe e sobre si mesmo, vive amizades cortadas ao meio por mulheres cujo amor conquista somente pela metade, conhece aquela que provavelmente foi a sua única e admirada leitora e casa-se. Sem saber o que fazer da vida e louco para deixar Londres, sugere a Ana, sua mulher, que partam para a terra dela, Moçambique, e lá passem a viver uma nova vida.
E na África começa a terceira história, narrada em retrospectiva pelo próprio Willie numa clara tentativa de emprestar algum sentido ao curso de suas decisões desde o momento em que pôs os pés para fora da Índia, em declarada fuga do pai e daquilo que ele e seu silêncio representavam. A nova vida recomeça numa fazenda colonial portuguesa, propriedade dos avós de Ana, onde Willie permanece por longos dezoito anos, fazendo o papel do marido, do patrão e do amigo dos amigos de sua mulher.
Meia vida pode ser considerado um romance de formação, um Bildungsroman. A formação de Willie Chandram, no entanto, com todos os seus aprendizados, deu em pouco — Willie aprende, mas nem tanto; sofre, mas nem tanto; ama, mas nem tanto —, e é este pouco muito bem manuseado que faz de Meia vida um trabalho de profissional: maduro, afiado, cheio de sutilezas; um romance que só poderia ter sido escrito na altura em que o foi: o final de uma longa carreira literária. Não há na história qualquer concessão à tentação do exagero e do estereótipo. A narrativa, em delicado equilíbrio, caminha sob um passo médio que poucos romances conseguem sustentar. Não há clímax, queda de ritmo, frases de efeito, momentos de suspense, personagens inesquecíveis ou grandes descrições. Há, sim, um comovente entendimento do que vem a ser uma vida inteiramente ordinária — humana: trivial e demasiadamente humana. Sir Naipaul escreveu um romance sem heroísmo ou tragicidade; um romance que consegue ser tanto mais literário quanto menos se compromete a sê-lo.