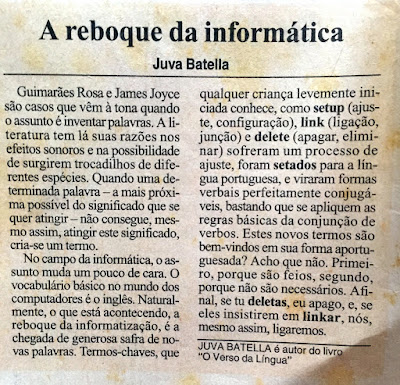"Um escritor senta à mesa — 'bon vivant' é personagem de
romance recheado com receitas da Provence", Caderno Idéias, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1996.
Resenha sobre o
livro Gula, de John Lanchester, ed. Companhia das Letras, trad. Vera Pedrosa.
Gula, ou The debt to pleasure, romance de John Lanchester, poderia seguir pela deliciosa esteira das chamadas histórias-com-receita — como Festa de Babette e Como água para chocolate. Poderia, sim, não fosse a presença tantalizante, monológica e hipercrítica desta que é uma das mais sinistras e sedutoras criaturas já inventadas. Mr. Tarquin Winot, ou monsieur, como prefere, é o cavalheiro que assina o prefácio deste livro. Culto, inteligente, irónico e — a julgar pelo efeito salivante da leitura — irrepreensível cozinheiro, este inglês bon vivant de família rica decide, motivado por amigos e, segundo pensa, por algum tipo de altruísmo súbito, trazer a público o resultado de suas considerações culinário-existenciais sob a forma de uma espécie de diário de viagem gastronómico.
Winot conta em primeira pessoa detalhes de sua infância, traça a genealogia da batata, aponta os segredos do fermento, justifica a invulgaridade do caviar, desvela os sabores existentes na mente de Deus, cataloga venenos, fala de filosofia, arte e literatura e convence. Convence porque é lógico, imodesto e convicto; convence porque o texto, impecável — repita-se, impecável —, é um prato cheio de piadas eruditas, armadilhas e receitas; ingredientes que Lanchester, repórter, editor, crítico literário do London Review of Books e, sobretudo, premiado crítico de restaurantes do London Observer, soube misturar e muito bem servir. O prato é um saboroso roteiro de 220 páginas pela França, dividido em quatro partes. Cada parte é uma estação do ano; cada capítulo, um menu (o leitor pragmático deverá pegar da pena e anotar aqui mesmo, ao canto da página). Durante o Inverno, salada de queijo de cabra, ensopado de peixe e torta de limão. À Primavera, omeleta com cogumelos (alguns, fatais), carneiro assado com feijões verdes (o cordeiro é sem dúvida melhor, porém raríssimo) e pêssegos fatiados em vinho tinto (é de boa índole não servir pêssegos com sementes; estas contêm cianogénio; este, combinado com enzimas, produz cianureto). Verão, Outono, demais pratos e respectivas receitas, vide Gula.
Mas, afinal, que pretende Winot com este banquete? Não se deu ao trabalho de o escrever apenas para dizer que Auden misturava vermute e gim à hora do almoço; que vodka quer dizer aguinha; que o tempo dos incas era medido pelo tempo de estar uma batata perfeitamente cozida; que Joyce se referia ao queijo como o “cadáver do leite”, e que o leite coagulado significa sabedoria e maturidade alcançadas durante a vida, esta “doença incurável, com índice de mortalidade da ordem de cem por cento — forma segura de morte lenta”. Não.
À medida que se avança no menu e vai chegando o outono, o que antes tinha gosto de singular excentricidade e requinte ganha a consistência de uma megalomania espaçosa e ávida. Tarquin Winot controla o texto, o enredo e os personagens, trabalha com evasivas e esclarece apenas o que quer esclarecer para que tudo o mais permaneça encoberto. Cara a cara com a criatura de Lanchester, mesmo o leitor mais atento não vê nada, apenas jatos ofuscantes de narcisismo e egolatria. Recomenda-se o olhar de viés, oblíquo e dissimulado, este sim sagaz o bastante para entrever, nas histórias que Winot aos poucos vai deixando escapar — como os aperitivos e as entradas de um singular repasto —, a bizarra intimidade de sua presença com trágicos e inexplicáveis acontecimentos envolvendo a morte de pessoas próximas — explosões, suicídios, acidentes com trens e intoxicações.
É pelo rabo do olho também que se percebe a real espécie de sentimentos que Tarquin experimentava por seu falecido irmão Bartholomew — importante, fecundo e afamado pintor. Qualidades inconvenientes ao comportamento de um artista, que “deve ser avaliado pelo que não faz: o pintor, pelas telas que deixou abandonadas e não tentou fazer; o compositor, pela extensão e intensidade de seu silêncio”. Logo, quem terá feito arte, sem com isso ter cometido “o erro ingênuo, naturalmente encantador mas idiota, de transferir pensamentos para papel, tela ou piano”, será Winot, não Bartholomew — dedução que esvazia de importância a série de entrevistas que lhe faz Laura Tavistock, a bela jovem encarregada de escrever a biografia de seu irmão. Winot desloca os papéis e, por conta própria, passa a considerar-se, ele mesmo, o biografado.
Além de estranho, Winot está disfarçado, com peruca e bigode falso. Qual a razão do disfarce? Qual o objetivo de sua pequena viagem à Provença? Por que vai, aos bocados, dando a impressão de estar seguindo os passos de um jovem casal em lua-de-mel? Estas perguntas tornam-se particularmente incômodas à medida que corre a Primavera, lá pelos idos de Abril. “Foi nessa época do ano que, num desses dias, após haver comido um gigot com alho, acompanhado do clássico haricot, feito por minha bela mão (...), começou timidamente a luzir, em minha imaginação, o projeto artístico que se transformaria na obra de minha vida.” T. S. Eliot escreveu, em The waste land: “Abril é o mais cruel dos meses”. Tarquin Winot responderia: “Sim, Eliot, mas não para os cozinheiros”.