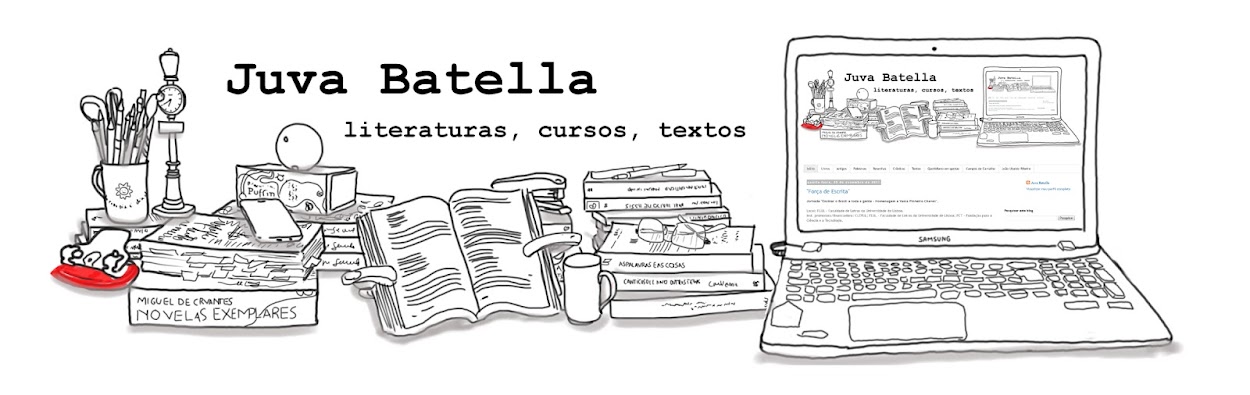BATELLA,
Juva; BERND, Z., “Poder:
Sargento”, in: Dicionário de figuras e mitos literários das Américas, 1. ed., Porto Alegre, ed. Tomo Editorial, editora da UFRGS, 2007, v. 1, p. 559-563 (ISBN: 9788586225512).
1. Apresentação
De certo
que existem, em todas as literaturas, assim como na vida, mais sargentos que
tenentes, mais tenentes que generais e mais generais que almirantes, para
simplificarmos o longo e detalhado quadro da hierarquia militar (ver verbete
“hierarquia”, Ferreira, 1999). Interessa-nos menos, no entanto, o sargento como
patente, e mais o sargento como status
social, papel no mundo, imagem de autoridade, estereótipo, símbolo de poder e
mesmo estado de espírito. A palavra vem do francês antigo, sergent, que significa servidor.
Ser sargento é ser mandado e saber mandar; é ter um chefe e vários
subordinados; é estar com os pés no mundo de quem obedece e a cabeça no
universo de quem dá as ordens, razão pela qual está aquele que é sargento muito
mais próximo da gente do povo do que das elites. “Manda quem pode e obedece
quem tem juízo”, diz o preceito popular. O sargento tanto pode quanto tem juízo
suficiente para saber que não pode tanto assim. A língua portuguesa ainda
registra a palavra sargentão, de
sentido depreciativo e referindo-se ao “oficial sem curso, ou que, tendo-o,
possui cultura reduzida” (Ferreira, 1999). E pergunta-se: os sargentos
latino-americanos condecoram a literatura, ou são quase todos a imagem falida,
patética e risível dos caudilhismos que se instalaram em vários países do continente?
2. Histórico
Las aventuras del sargento Mike Goodness y el cabo Chocorrol, de
1995, do escritor e cartunista mexicano Rafael Barajas, conhecido como “El
Fisgón”, é o retrato de uma espécie de Hitler mexicano acompanhado de seu
estúpido assecla, o cabo Chocorrol. Outra aventura, esta mais antiga, porém não
menos impiedosa em sua crítica ao militarismo, chama-se El sargento Felipe, novela de 1899 do escritor venezuelano Gonzalo
Picón Febres (1860-1918), diplomata, cônsul em vários países e membro da
Academia Venezuelana. Ainda encontraremos, se recuarmos dois séculos, o famosíssimo
e engraçadíssimo El sargento Canuto,
comédia de 1839, do peruano Manuel Ascensio Segura (1805-1871), dramaturgo
considerado dos mais importantes do século XIX. Ascensio não apenas descreveu a
vida militar de fora; viveu-a, e bravamente, quando combateu ao lado de seu pai
na batalha de Ayacucho e quando se tornou capitão em 1831. Logo depois começou
a escrever. Ainda veio a tornar-se, mais tarde, em 1842, e passadas outras
batalhas, tenente coronel da Guarda Nacional. Sua produção literária
inspirou-se, sobretudo, na consecução de um único plano: retratar a sociedade
peruana do século XIX e, principalmente, o segmento militar, com a sua
prepotência, o seu pendor para as intrigas e a sua força de corrupção. Ascensio
Segura representou, em suas comédias, muitos personagens reais, sim, mas, como
adverte Bella Josef, “como tipos sociais, entenda-se, não como caracteres
individuais” (Josef, 1971, p. 56). O seu sargento Canuto não passa, é claro, de
mais um militar ignorante, bufão e orgulhoso — um tipo social.
A condição da figura do sargento
como mito latino-americano é, no entanto, fugidia, à exceção, talvez, de um
específico personagem, o protagonista do romance Sargento Getúlio, do escritor João Ubaldo Ribeiro. Dada a sua
história de vida, sintetizada toda ela no percurso de uma travessia pelo sertão
por conta de uma importante tarefa, Getúlio consegue atingir para nós, aqui, a
dimensão mítica que procuramos — razão pela qual o encaixamos no centro deste
verbete.
3. Campos de
aplicação
Getúlio Santos Bezerra é o
narrador-protagonista da novela de João Ubaldo, que começa com uma esclarecedora
epígrafe: “Nesta história, o Sargento Getúlio leva um preso de Paulo Afonso a
Barra dos Coqueiros. É uma história de aretê”. Uma história de aretê é uma
história em que honra e virtude, juntas, contribuem decisivamente para a
consecução de uma tarefa. Segundo Maria Lúcia Aragão, citada por Zilá Bernd, em
seu artigo “Um certo Sargento Getúlio” (Bernd, 2001, p. 13), aretê traz a marca
do herói — aquele que tem consciência de seu valor e do valor da missão a ser
cumprida. O herói carrega às costas a responsabilidade de perpetuar os valores
da comunidade que representa e que lhe atribuiu a marca e o papel de herói.
“Sua missão maior”, escreve Maria Lúcia, “é lutar pela honra de sua raça e
defender com a própria vida os seus princípios éticos” (Aragão, 1988, p. 104,
cit. por Bernd, 2001, p. 13).
O
personagem sargento Getúlio não apenas cumpre seu papel, como morre justamente
por tê-lo cumprido. E que papel é esse? Sua simples missão: levar um preso
daqui para lá, de Paulo Afonso, norte da Bahia, a Barra dos Coqueiros, em
Sergipe, Brasil. Emana a ordem de levar o preso de um chefete local, um tal
Acrísio Antunes, representação cristalina do coronelismo que tanto marcou e
ainda marca a região. Acrísio, embora não apresente voz própria em todo o
romance e mesmo no filme homônimo do diretor Hermano Penna,[1]
teve sua etimologia rastreada por Zilá Bernd, que assim esclarece: “Acrísio,
cujo nome significa, etimologicamente, ‘o que não sabe julgar ou discernir’”
(Bernd, 2001, p. 20). O nome Acrísio, levando-se em conta este sentido, cairia
melhor na pele do próprio Getúlio, perdido em si mesmo, cego para o que sucede
à sua volta e para as mudanças do mundo. Getúlio, como bem observou Stella
Costa de Mattos, é representante da classe dos mandados e conduz o seu preso,
representante, por sua vez, da classe dos mandantes (Mattos, 1985, p. 46).
Acompanham Getúlio seu motorista
Amaro, amigo de longa data, e o próprio preso, o “cachorro bexiguento”, “cão da
pustema apustemado”, “pirobo semvergonho, pirobão sacano xibungo bexiguento
chuparino do cão da gota do estupor balaio” (Ribeiro, 1982, p. 27) — assim
chamado porque Getúlio não lhe dá nome, o que equivale a dizer que o preso, de
fato, não carrega nome algum. O sargento, além dos xingamentos, ainda se refere
ao seu “pirobo semvergonho” como o “filho de uma mãe com vinte pais” (Ribeiro,
1982, p. 68). Viajam os três num carro antigo, baleado, enferrujado e lento,
referido como um velho hudso (Hudson). No meio do caminho, Getúlio
recebe uma contra-ordem: reconduzir o preso a Paulo Afonso e abortar a missão.
A contra-ordem, recebe-a não pessoalmente, de seu chefe Acrísio, origem da
ordem inicial, mas de mensageiros que lhe vão surgindo pelo caminho. O
sargento, não obstante os recados vindos diretamente do chefe, recusa-se a incorporar
a nova ordem — e desse modo incorporar-se à nova ordem. Dada a sua obstinação,
a sua ignorância, a sua fidelidade à palavra
viva de Acrísio, Getúlio vai contra a contra-ordem e decide enfrentar as
conseqüências. É este o argumento do livro.
Que não se
pense, porém, que a recusa de Getúlio advém de um impulso de livre vontade.
Não. Getúlio, e neste aspecto reside uma boa parte de sua condição mítica, está
encerrado em um destino traçado, onde pouca ou nenhuma liberdade de ação lhe é
outorgada. “Imerso no continuum
mítico”, escreve Stella Costa de Mattos, “o devir humano se reveste de
segurança, por seguir o que o modelo prescreve, mas se despe, em conseqüência,
de um certo grau de liberdade” (Mattos, 1985, p. 25). O modelo de Getúlio é o
macho-herói.
Getúlio está sempre a meio
caminho. O que se disse ao início acerca da posição indecisa e ambígua da
patente de sargento no quadro do poder militar, aliado à circunstância de o
personagem Getúlio estar, na história, sempre a caminho, e justamente no meio do
trajeto quando toda a conjuntura se transforma, constitui mais uma peça a ser
levada em conta na construção de sua roupagem mítica, porque Getúlio não
suporta, e não sabe, estar a meio caminho do que quer que seja. E, no entanto,
está. “Não gosto que o mundo mude”, diz ele, “me dá uma agonia” (Ribeiro, 1982,
p. 94). Getúlio é sargento (sergent),
e se imbui com tamanha obstinação (que não deixa de ser uma equivalente da hybris grega, aponta Zilá Bernd) da
condição de servidor de seu chefe, que chega ao ponto de o trair justamente por
pretender servi-lo de modo absoluto, ou seja, servir unicamente à presença viva
de Acrísio, sem intermediações ou representações. Servir à palavra do chefe,
como resumiu tão bem Zilá Bernd, é uma razão de existir, e “aceitar a anulação
da missão (...), uma impossibilidade existencial, pois implica renunciar à sua
razão de existir” (Bernd, 2001, p. 16). Se as razões para Getúlio estar ali são
todas ligadas à sua missão de levar o preso e assim cumprir a ordem, como lidar
com o desaparecimento dessa missão? As conseqüências existenciais não são menos
existenciais por estarem atreladas à manutenção de um determinado papel social,
fadado à extinção. Getúlio sabe “que a ordem de abortar a missão representa o
desaparecimento de sua ‘profissão’”, escreve Zilá Bernd, e conclui: “... não
haverá mais espaço para o papel que desempenha no cenário do sertão” (2001, p. 16).
Getúlio
encontra-se também a meio caminho entre a sua consciência e uma determinada
lei, que não está escrita, mas no mínimo consolidada pelo chamado “espírito
político local”, que não é outra coisa senão a capacidade de transitar entre ideologias
mais ou menos convenientes, à margem de qualquer consciência. Acrísio, não
pessoalmente, remete a contra-ordem baseado não mais na sua lei, que Getúlio
conhece e vem aplicando a valer, mas em uma outra, segundo a qual passa a ser
mais importante, politicamente, soltar o preso e esquecer a coisa. Getúlio
aferra-se à primeira lei. A partir dessa configuração, Zilá Bernd aponta para o
mito de Antígona e o relaciona ao sargento de Ubaldo, que não acata a contra-ordem
de Acrísio do mesmo modo como a irmã de Polinices não obedece ao furioso
Creonte. Estão ambos movidos por aretê, seja procedendo aos ritos fúnebres
proibidos pela nova lei, seja procedendo à entrega do preso, também cancelada
por uma nova conveniência. Getúlio e Antígona sabem que vão morrer, e sabem
também que não suportariam não morrer.
“Deus me livre que eu não leve o coisa comigo e não entregue, o que é que eu
vou ficar pensando depois, se já tenho pouco para pensar e o pouco que eu tenho
vai inchando na minha cabeça” (Ribeiro, 1982, p. 101).
A
desobediência de Getúlio, no entanto, antes de o levar à destruição, leva-o a
uma espécie de existência nova e amplificada. “O que é que eu fiz até agora?
Nada. Eu não era eu, era um pedaço de outro, mas agora eu sou eu e sempre e
quem pode?” (Ribeiro, 1982, p. 141). Obedeço, existo; se não obedeço, existo
mais ainda..., antes de deixar de existir totalmente. “Aquele homem que o senhor
mandou não é mais aquele. Eu era ele, agora eu sou eu” (Ribeiro, 1982, p. 152),
diz Getúlio, já se sentindo abandonado e perdido, sim, mas, pela primeira vez,
sabendo de si: “Agora eu sei quem eu sou” (Ribeiro, 1982, p. 154). Este “agora”
configura, na história, um divisor de águas. Zilá Bernd aponta a migração de
Getúlio, “da condição de herói épico a herói trágico” (2001, p. 19). Stella
Costa de Mattos, referindo-se a uma análise de Kolakowski, observa a
emergência, em Getúlio, de uma consciência reflexiva a se impor sobre a
consciência mítica de outrora. A consciência reflexiva de Getúlio, no entanto,
é epidérmica e embrionária, o que o faz migrar “da plenitude da segurança à
precariedade e à progressiva solidão” (Mattos, 1985, p. 77).
4. Síntese crítica
Mas Getúlio Santos Bezerra é um
personagem da literatura. Em que momento a sua história de vida se torna aquele
modelo de que todo mito é portador? No momento em que a única saída para a sua
condição dúbia insuportável se revela como sendo a morte? Ou Getúlio é, desde o
início, um personagem mítico? Getúlio, menos que um mito, talvez constitua
aquele que vive imerso num mundo mítico e nele se afoga — um mundo mítico cujos
elementos coincidem com aqueles que caracterizam o mundo do sargento. Getúlio, talvez
não menos, mas antes que um mito, vive o mito de si mesmo e somente para si mesmo.
Enquanto não está diante do
impasse, enquanto sua missão permanece uma linha reta sem qualquer dilema,
Getúlio é o herói épico e o seu mundo é perfeito, transparente e coeso. Sua
familiaridade com Sergipe abarca o mundo todo, porque Sergipe é o centro do
mundo e, tal como o universo mítico, acessível em seu todo através da
referência ou do pertencimento a uma de suas partes. Getúlio vive a totalidade
de maneira ainda mais subjetiva, porque não apenas sente que o mundo inteiro é
Sergipe como também que Sergipe surge como uma terra de machos e ele, Getúlio, como
o grande macho da terra. “Poder, valentia, macheza”, diz Stella Costa de
Mattos, “são as qualidades que o herói se atribui e atribui ao seu mundo, numa
identificação entre o eu, o território e a totalidade” (1985, p. 56).
O mundo de Getúlio significa
Sergipe, sim, mas preferencialmente o Sergipe de antes, de um tempo anterior,
no qual se viviam situações mágicas, e também o Sergipe de dentro, do interior
dos matos, distante da modernidade de Aracaju, com a qual Getúlio nunca se deu.
Há aqui, como aponta Stella Costa de Mattos, uma vinculação do antigo com o
mágico e com o primitivo (1985, p. 59), convergindo as três noções para o ideal
de Getúlio: aquele lugar e aquele tempo em que ele, como macho, gostaria de ter
vivido começam a invadir a sua realidade imediata e transformam-se naquele
lugar e naquele tempo que ele, já um fugitivo, já virado em herói trágico, vai
aos poucos, à medida que avança em seu caminho, ressuscitando.
Já próximo do fim, da entrega do
preso e da suposta morte matada, e inteiramente consumido pelo mito do
macho-herói que criou em torno de si mesmo, Getúlio delira e atira-se à
narrativa — épica — do “Regimento dos Encourados”, espécie de grande exército
mítico formado por três grandes machos da imaginação de Getúlio: o Capitão
Geraldo Bonfim do Cansanção, em luta contra São Jorge; o Major Jacaré de
Carira, a vencer “duzentos batalhãos de baianos”; e o Capitão Rosivaldo da
Silva com Onça, que, em combate, chegou a matar quarenta e dois homens por
minuto (Ribeiro, 1982, p. 141-146). Já próximo do fim, Getúlio, em seu delírio,
vive duas vidas: a vida de glórias de cada uma de suas três caras-metades e, ao
mesmo tempo, a de quem está a ser perseguido, como bandido perigoso e louco,
por toda a força policial de Sergipe. É porque vive a primeira com ardor épico
que consegue passar incólume pela segunda, que já não significa nada nem lhe
diz respeito, porque é a vida de um outro que ele era e não é mais. “Eu era
ele, agora eu sou eu” (1982, p. 152), anuncia. E Getúlio só não consegue ser
mais que um mito para si mesmo porque fez consigo mesmo o que somente outros
podem fazer, porque ousou penetrar, com a sua fala, mesmo que por apenas um
instante, o suficiente para lhe calar a voz, é verdade, naquele terreno onde os
mitos não circulam: a narrativa da própria morte.
5. Autor: Juva Batella
6. Ver também: Cangaceiro; Coronel; Doutor; Jagunço;
Padre; Sertão; Viajante.
7. Bibliografia
7.1. Bibliografia crítica
Aragão, Maria Lúcia. “Sargento Getúlio: uma
história de Aretê”. In: Caleidoscópio.
São Gonçalo: Fac. Integrada São Gonçalo, nº 8, p. 104-110, 1988. Citado por
Bernd, Zilá. “Um certo Sargento Getúlio”. In: Bernd, Zilá & Utéza, Francis.
O caminho do meio — uma leitura da obra
de João Ubaldo Ribeiro. Porto Alegre: Ed. da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, UFRGS, 2001, p. 13-24.
Bernd, Zilá. “Um certo Sargento
Getúlio”. In: Bernd, Zilá
& Utéza, Francis. O caminho do
meio — uma leitura da obra de João Ubaldo Ribeiro. Porto Alegre: Ed. da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, 2001, p. 13-24.
Ferreira, Aurélio Buarque de
Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico,
Séc. XXI, versão 3.0, nov. 1999.
Josef, Bella. História da literatura hispano-americana.
Petrópolis, Rio de Janeiro: 1971.
Mattos, Stella Costa de. Sargento Getúlio — uma história de aretê.
Instituto de Letras e Artes, Pós-graduação em Lingüística e Letras, Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, dez. 1985, sob a
orientação de Regina Zilberman.
7.2.
Bibliografia literária
Ribeiro, João Ubaldo. Sargento Getúlio. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1982.
7.3. Bibliografia eletrônica
[1]
Sargento Getúlio — Direção: Hermano
Penna; realização: Blimp Film e Embrafilme; roteiro: Hermano Penna e Flávio
Porto; diálogos adicionais: João Ubaldo Ribeiro; com: Lima Duarte, Fernando
Bezerra, Orlando Vieira, Flávio Porto, Ignês Maciel Santos; direção de
fotografia: Walter Carvalho; música: José Luiz Penna, Tiago Araripe, Paulinho
Costa; som direto: Mario Masetti; trilha musical: Papa Poluição; cenário,
figurino, maquiagem: Percival Rorato; eletricista e maquinista: Joel Queiroz;
edição e montagem: Laércio Silva; direção de produção: Álvaro Pedreira.