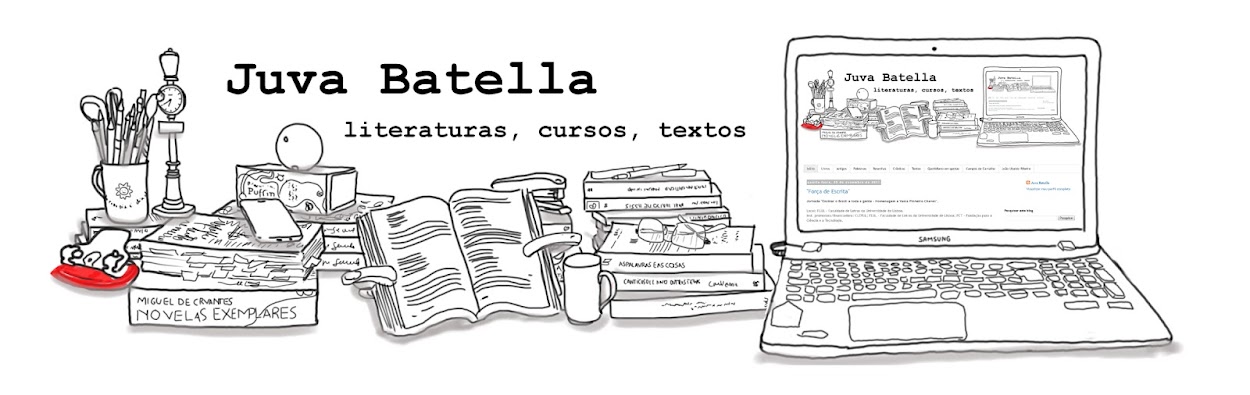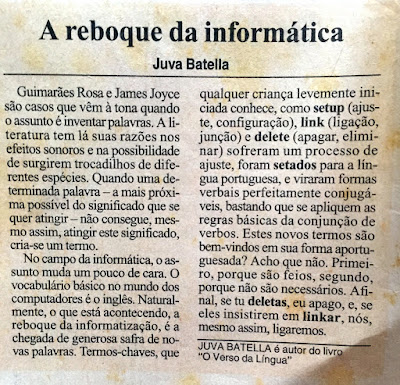"Duas culturas, uma tragédia — Entre a Inglaterra e a África
do Sul, um casal perde suas raízes e enfrenta seus fantasmas", Caderno Idéias, Jornal do
Brasil, Rio de Janeiro, 2 de agosto de 1997.
Resenha sobre o
livro Mudança de clima, de Hilary Mantel, ed. Record, trad. Maria dos Anjos Santos Rouch.
Inglaterra. O clima no condado inglês de Norfolk é frio, o ar é úmido e o mar ao pé dos rochedos tem cor de chumbo. Quando o olhar chega ao horizonte, não há horizonte, mas uma mistura cinzenta de nuvens geladas, como um véu. Embaixo, na terra, a vida é pacata. Norfolk é um polvilhado de igrejas e pequenas propriedades, a população é rural e religiosa, há muitas fazendas, separadas por extensas planícies, e um comércio local de produtos hortigranjeiros e miudezas para turistas. Vive-se para dentro e mastigam-se segredos — engolidos em silêncio junto com o chá, que sai às cinco.
África do Sul. O céu sobre os morros arredondados se inunda da luz do sol e fica violeta quando toca as pedras. Impossível não imaginar que, em algum lugar, lá estarão, intocados, as savanas, os horizontes a perder de vista, a girafa, o elefante e o bom selvagem. Mas na cidade de Elim, ao pé de Pretoria, o clima é quente e tenso. Há muita confusão nas ruas. O bôer — macho adulto branco holandês — está no comando há quinhentos anos, desde o século XV, época em que chegou e ocupou grandes regiões do sul da África, julgando-se dono da terra e dos que lá viviam. A educação está restrita às elites brancas, e a manutenção da miséria, do caos social e da ignorância cumpre a grosseira função de desmantelar qualquer tentativa da população negra de organizar-se em torno de uma identidade ainda a ser novamente criada, uma vez que já não mais existe.
Entre Inglaterra e África do Sul, emergindo de geografias sociais e políticas tão diversas está a história de um jovem casal de missionários ingleses, Ralph e Anna Eldred — ambos pertencentes à igreja anglicana, ambos nascidos em famílias ortodoxas e conservadoras (leia-se anti-darwinistas radicais), ambos ansiosos por sair de casa. Casados, vão Ralph e Anna para a África do Sul, a serviço da sociedade missionária a que pertencem, fazer o bem, não importando a quem, perdoando sete vezes setenta e amando o próximo como (muito mais do que) a si mesmos.
Os momentos mais dramáticos de sua permanência na confusa cidade de Elim, somados à descrição do clima que envolve a família Eldred em sua volta à Inglaterra e no desenrolar da vida no minúsculo condado de Norfolk, são o ponto alto deste Mudança de clima (A change of climate), sexto romance de Hilary Mantel. Esta inglesa de 45 anos nasceu em Derbyshire, trabalhou no Oriente Médio e viveu cinco anos na África do Sul. Ganhou por seus “escritos de viagem” o prêmio Shiva Naipaul, em 1987, e tem sido bastante elogiada por jornais e suplementos literários ingleses. Um de seus romances, A place of greater safety, recebeu do Sunday Express o prêmio de livro do ano e do Sunday Times o de melhor romance em 1992. O irresistível senso de humor tipicamente britânico que evapora de seu texto transforma qualquer melodramatismo narrativo em um pensamento inteligente, uma observação acurada, um quase aforismo.
Não se pode afirmar que Mudança de clima seja um romance autobiográfico. Provavelmente não. Mas cinco anos na África do Sul não deixam ninguém indiferente, e seria ingênuo crer que Mantel não tenha recapturado, não os fatos que viveu em sua experiência sul-africana, que estes, os fatos, mudam com o tempo e o vento e são quase incomunicáveis para quem não os viveu; mas que não tenha recapturado neste romance e principalmente no personagem de Anna, mulher de Ralph, a sensação do estranhamento. Não apenas o estranhamento de sentir-se estrangeiro no lugar para onde se foi, mas, em especial, sentir-se estrangeiro no lugar de onde se veio, quando se volta.
Depois de um bom tempo na cidade de Elim, numa espécie de lua-de-mel às avessas, a tentar remendar o irremediável, sem infra-estrutura e a viver numa casa aos pedaços, Ralph e Anna acabam metidos num mal-entendido que os leva à cadeia. Mas a cadeia não foi nada em relação ao mau bocado que passaram depois — um segredo muito bem trancado que os perseguiu por toda a vida; um episódio, chocante sob todos os aspectos, que não poderia ser revelado, sob pena de se desmantelar toda a família Eldred, incluídos os quatro filhos do casal.
Este romance possui a rara qualidade de não ser simplista ao debruçar-se sobre o que se achou por bem chamar “o outro”. Afirma, sim, desde o título, a existência de uma diferença, uma mudança de clima, mas não cai na armadilha de caracterizar por estereótipo dois ambientes e depois submetê-los a uma apreciação que se limite a compará-los. Através da tragédia vivida pelos Eldred, formaliza e polariza, na pele de Ralph e Anna, dois velhos pontos de vista acerca de uma importante questão: até que ponto estão as diversidades culturais — incluídos os costumes, as tradições e as práticas sociais e religiosas — protegidas por uma espécie de imunidade que as isentaria de prestar contas aos chamados valores universais que resguardariam os direitos fundamentais do homem e a dignidade da pessoa humana?
Trecho:
“— Mas Julian me contou, você sabe... sobre a prisão.
Ralph balançou a cabeça numa negativa:
— Isso não foi nada.
(...)
— Quando vocês estavam presos, vocês foram maltratados?
— Não, eu já disse, isso não foi nada. Se tivéssemos sido muito maltratados, teríamos voltado para casa depois de libertados, mas nós não voltamos, fomos para Bechuanaland. Continuamos por lá.
— Isso é um pouco misterioso. Para Julian. Ele fica imaginando por que vocês não falam sobre o assunto. Ele inventa razões, na cabeça dele.
— Kit passou por uma fase, você sabe como as crianças se comportam... Ela queria nos transformar em heróis. Ela não entendia por que eu não participava dos movimentos anti-apartheid, unindo-me às pessoas que sentavam na rua em frente à embaixada sul-africana.
— E por que você não participava?
— Por que é muito mais complicado do que pensam essas pessoas estúpidas que desfilam pelas ruas com faixas. Fico profundamente irritado de ver essas pessoas usando a África do Sul para se sentirem bem. Tão preocupadas com a moral de um país que nunca viram, com a vida de pessoas das quais não sabem nada.” (p. 171)