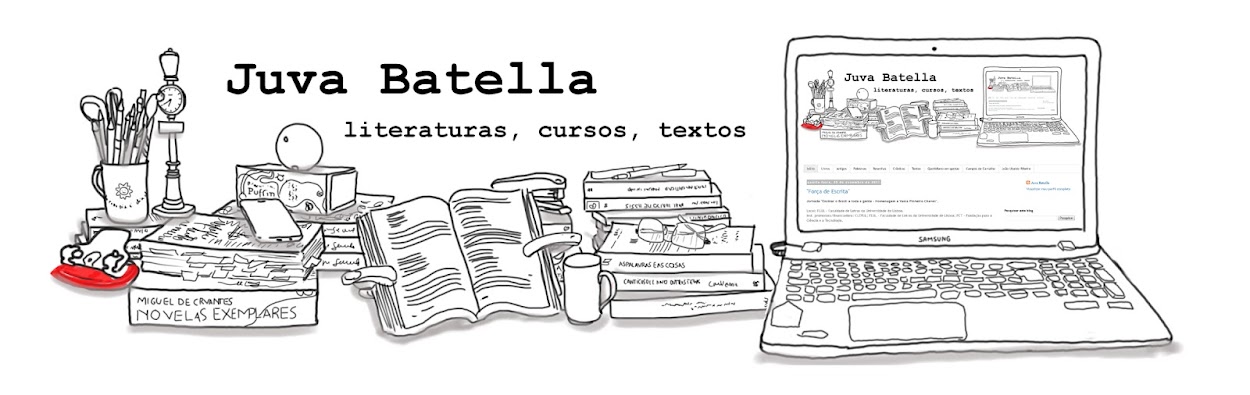“Uma metáfora para a morte — Autor indiano constrói fábula sobre
pobre coitado que recebe nome de Vishnu”, Caderno Idéias, Jornal do Brasil, Rio
de Janeiro, 11 de maio de 2002.
Resenha sobre o livro A morte
de Vishnu, de Manil Suri, ed. Companhia das Letras; edição portuguesa: ed. Edições ASA.
Os deuses são imortais, sim, mas não porque não morram. Os deuses são imortais porque não acabam de morrer. Não concluindo a tarefa da morte, permanecem morrendo por toda a eternidade, navegando o barco fantasma de seus últimos dias sobre o restante dos seres — estes sim mortais para valer, já que nascem e vivem unicamente para accionar o gatilho de sua própria extinção: sua vida, por mais curta que seja, é longa, e sua morte, por mais definitiva e irrevogável que se apresente, é breve. Os deuses são diferentes: vivem a morrer; nunca deixam de morrer.
Este é o caso de Vishnu, cujo nome tem aqui três destinos: é o nome de um deus hindu, o nome de um homem, o nome de um livro. Aliado a Brahma — o grande criador — e Shiva — o grande destruidor —, Vishnu, a meio caminho entre um e outro, faz o papel do máximo senhor e mantenedor de tudo o que existe. Ao conjunto de suas acções dá-se o nome de karma, sendo o karma tudo aquilo que mantém o mundo em movimento incessante e obstinado. Os três compõem a tríade de babás, ou zeladores, a tomar conta do universo, sustendo-o justo e equilibrado em suas forças e fraquezas. Trata-se da trimúrti, a trindade indiana a representar as três faces da Natureza — mais uma bela maneira de apresentar a ideia de que tudo, no fundo, é uma coisa só.
Vishnu é também um nome de gente; o nome de um ganga, ou seja, uma espécie de empregado doméstico a serviço de várias casas. O ganga Vishnu, quase um bechara, um coitado, habita um vão de escadas, entre o térreo e o primeiro andar de um prédio de apartamentos em Bombaim, na Índia. Em troca de pequenos favores, deixam-no lá dormir, deixam-no lá acordar e lá embriagar-se, deixam-no lá viver — até o dia em que começa a morrer. E o que fazem? Deixam-no lá, a morrer. O que sucede aos moradores do prédio durante o passamento de Vishnu forma a história deste livro: a história de uma morte que dura 308 páginas. Vishnu morre como um imortal, a cuja morte ninguém nunca assistiu; morre como um deus: altiva, lenta e infinitamente.
A morte de Vishnu é o primeiro romance do indiano Manil Suri, nascido em Bombaim em 1959, doutor em matemática e professor da universidade americana de Maryland. Diz o autor, em nota introdutória, que as escadas do prédio de apartamentos em que passou a infância também um dia abrigaram um ganga, morto em “agosto de 1944, no mesmo patamar que ocupou durante muitos anos”. Suri — parido quinze anos depois — reteve de seu ganga “histórico” não a vida, que não conheceu, nem a morte, a que não assistiu, mas o nome, Vishnu, a partir do qual deu vida ao seu próprio Vishnu, que começa o livro morrendo. À medida que morre, delira. À medida que delira, acredita-se — e, portanto, torna-se — o deus que leva o seu nome.
Manil Suri cria, a partir do prédio de apartamentos que configura o hábitat do romance, a representação de uma pirâmide, não social, mas espírito-existencial. Em sua base larga e densamente povoada estão a maioria dos viventes e seus sentimentos primários e subterrâneos, entre eles a mesquinhez e a frivolidade das duas vizinhas do primeiro patamar, a sra. Pathak e a sra. Asrani, sempre aos berros, sempre às turras pela posse da cozinha, do azeite, da manteiga e da água, sempre uma a vigiar a outra, a roubar a outra, a deslouvar a outra, e empurrando-se mutuamente a responsabilidade pelo estado moribundo de seu ganga e pelo seu cheiro de coisa a desfazer-se que afinal já começa a tomar conta daquele primeiro patamar. A base ainda abriga a subserviência de seus maridos, desestimulados para qualquer tipo de contenda familiar, inteiramente acomodados às suas vidas bocejantes, assexuadas e egoístas.
Em seguida, a meio caminho entre a base e o topo, no segundo patamar, portanto, a família Jalal e sua ruptura básica: o abismo de ideias entre o casal Arifa e Ahmed — ela, convencional e mediana, desde sempre educada no islamismo ortodoxo, considera o marido um blasfemo; ele, um intelectual de todas as religiões, pluralista e liberal, descobre-se insatisfeito com sua vivência meramente teórica do fenómeno da transcendência e decide então alcançar a ascensão espiritual através da experiência do martírio e da dor. Depois de patéticas sessões de auto-flagelação, e diante de sua baixíssima resistência à dor que a dor provoca, desiste, em nome de algo mais digno: espalhar a fé. Para tanto, elege para deus o ganga Vishnu, ali deitado no primeiro patamar, às portas da morte, e a si mesmo como o seu profeta Ahmed.
No último andar, um pouco abaixo do terraço de onde se pode ver o céu, o tristonho sr. Taneja, ou simplesmente Vinod — uma palavra para felicidade. A ausência de seu grande amor, sua mulher Sheetal, vencida pela doença, gera uma melancolia, uma tristeza e uma saudade tão persistentes, tão cotidianas, que Vinod consegue, após décadas de sucessivos mergulhos nas profundas de si mesmo, secar enfim as lágrimas e simplesmente dedicar-se à contemplação acrítica do mundo — vencendo em si mesmo a necessidade do outro, de qualquer outro.
A morte de Vishnu é um romance inteligente, engraçado e bastante feliz naquilo a que se dispõe: a montagem de um painel humano. A história, no entanto, passaria muito bem sem o próprio Vishnu. O ganga e sua morte, a bem dizer, não são muito e nem o mais importante do livro. São um bom pretexto para que se possa falar dos vivos — estes sim a óptima massa ficcional de Manil Suri. A partir do universo de um edifício de classe média em Bombaim, com seus gangas; suas dhobi, lavadeiras; suas jamadarni, limpadoras de privadas; seus halwai, vendedores de doce; e todos os seus condóminos, o autor monta um mapa social, psicológico, religioso e filosófico de seu povo e — de certo modo — de sua espécie. Dizer “de certo modo” significa reconhecer que podemos, sim, mesmo estando distantes, mesmo sendo diferentes, outros, encontrar cúmplices naquilo que lemos, ou seja, tornar vívidos, e portanto hipoteticamente vividos, um sofrimento, uma alegria, uma angústia experimentados por esse ou aquele personagem. Quando isso acontece — ou seja, quando a experiência alheia se torna inteligível através da experiência da leitura, e nem mesmo um país, uma cultura, um tempo e um espaço conseguem enfraquecer a potência de uma condição universal alcançada —, a literatura torna-se uma espécie de panteísmo: ela a tudo atravessa, sendo a soma de tudo o que existe.