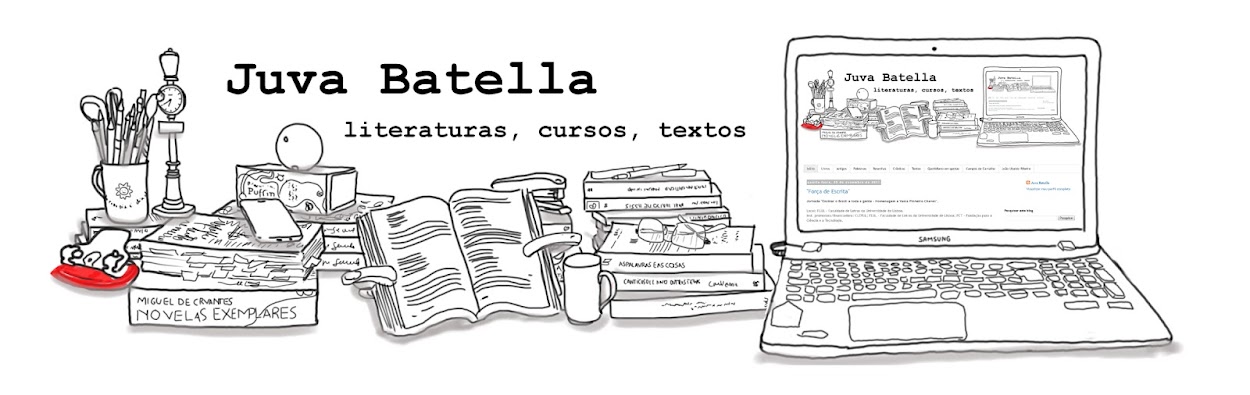20 de dezembro de 2003
6 de dezembro de 2003
2 de dezembro de 2003
"Juva Batella lança livro sobre experiências como pai"
PATERMAN, Márcia, "Juva Batella lança livro sobre experiências como pai", Jornal da PUC, Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2003.
6 de setembro de 2003
“A farsa de Varsóvia"
“A farsa de Varsóvia — Carta do judeu Yossel Rakover chocou e confundiu o mundo”, Caderno Idéias, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2003 (texto modificado).
Resenha sobre o livro Yossel Rakover dirige-se a Deus, de Zvi Kolitz, ed. Perspectiva.
Um livro sobre um judeu na boca do inferno, abismado em meio à maldade e voltado contra Deus, de quem cobra explicações. Um livro sobre um personagem que foi inventado e que depois aniquilou seu inventor. Um livrinho que é de bolso mas, de tão grande, não cabe em lugar algum.
Comento aqui um livro que me impressionou e impressiona até hoje; um livro pouco comentado na época, ainda hoje pouco comentado, rarissimamente encontrado nas livrarias e infelizmente pouco lido. Quem lê esse livro não o esquece mais.
Começo a história neste ponto, e não antes: o judeu Yossel Rakover de Tarnopol, filho de David Rakover, está escrevendo o seu testemunho em meio às chamas de alguma casa do gueto de Varsóvia, no dia 28 de abril de 1943, um pouco antes de morrer baleado pelo inimigo, os nazistas. O judeu Yossel Rakover escreve suas últimas linhas de vida rememorando os seus últimos dias: a noite em que, escondido numa floresta, faminto e desorientado, com os alemães a persegui-lo, encontra um cão, também faminto e desorientado, e, com ele ao colo, chora e soluça, enlouquecido de angústia e tristeza. O dia em que, ainda escondido na floresta, assistiu à morte da mulher, metralhada à sua frente, tendo ao colo o seu bebê de sete meses, um pouco antes de desaparecerem seus dois outros filhos, de quatro e seis anos. A manhã em que, ainda no gueto, testemunhou sua filha Raquel, de dez anos, ser flagrada tentando cruzar os portões de ferro à cata de um pedaço de pão e em seguida punida por um grupo de nazistas, que lhe racharam o crânio e lhe viraram as costas, às gargalhadas; e outros dias semelhantes, nos quais cada filho seu ia deixando de existir, das mais variadas maneiras, mas sempre graças a uma única causa, sob a égide de uma única razão perversa e pelas mãos do mesmo grupo de seres humanos.
O judeu Yossel Rakover tem então quarenta e três anos e está ali, escondido, perto das chamas e dos alemães, sem nenhuma família e nenhuma esperança de que sairá dali vivo. E escreve. Escreve sem parar o seu testemunho, tentando, através dele, recapitular a vida, fazer os tais balanços que se fazem à hora da morte e por fim dedicar-se a uma espécie de acerto de contas com Deus. Diz ele que foi um homem rico, mas nunca se considerou proprietário de sua riqueza - razão pela qual manteve sempre abertas as portas de sua casa a todos os homens e nunca acusou de ladrões aqueles que, porventura, aqui e ali, o tivessem roubado. Diz também que por toda a existência serviu a Deus e manteve inalterada a sua fé Nele, vendo Nele antes de tudo um benfeitor e sentindo-se em relação a Ele nada mais que um devedor. Mas e agora?
“Agora”, escreve o judeu Yossel Rakover, poucos minutos antes de morrer fuzilado ou queimado pelos nazistas, “a relação é com alguém que, Ele também, tem uma dívida em relação a mim, uma grande dívida. E como sinto que, por Sua vez, Ele é meu devedor, penso ter o direito de cobrá-Lo.”
E aqui começa todo o terrível encanto desse que é um dos mais belos, impactantes e corajosos textos já escritos. Yossel Rakover dirige-se a Deus é uma espécie de carta com menos de trinta páginas, traduzida do alemão por Fábio Landa, com a ajuda de Eva Landa - uma publicação da editora Perspectiva, que nos dá ainda alguns presentes: um ensaio do filósofo Emmanuel Levinas sobre os conteúdos filosófico-religiosos do testemunho do judeu Rakover, o fac-símile da edição original, em ídiche, e um relato de Paul Badde, responsável pela transcrição para o alemão e um dos responsáveis pela reconstituição do original em ídiche, agora pela primeira vez integralmente disponível. Badde vai contar-nos em seu relato a impressionante e insólita história das peripécias editoriais de um texto condenado à orfandade.
Yossel Rakover dirige-se a Deus “queima como um jato em chamas”, diz Paul Badde, e com uma “tal intensidade que poderia provir de Shakespeare”. É um documento cheio de questões, tendo permanecido por muitos anos envolvido em dúvidas. Uma delas mora inteira dentro desta pergunta: como é possível que estejamos hoje, aqui, a falar dessa carta que o judeu Yossel Rakover escreveu horas antes de morrer fuzilado pelos nazistas e depois queimado pelas chamas naquele 28 de abril de 1943? Responde-nos a epígrafe que abre o testemunho:
“Nas ruínas do gueto de Varsóvia encontrou-se, enterrada sob montanhas de pedras calcinadas e restos humanos, uma garrafa. Ela guardava o seguinte testamento, escrito por um judeu chamado Yossel Rakover algumas horas antes do aniquilamento do gueto”.
Muitas outras cartas semelhantes, escritas em semelhantes condições, foram também depositadas em garrafas e frascos de conserva e deixadas ao acaso sob ruínas de pedra e corpos durante a guerra - e muitas ainda sob a terra estarão, mudas, à espera de se tornarem, também elas, um testemunho. Trata-se, ainda segundo o texto de Paul Badde, de uma longa tradição segundo a qual é preciso resistir, e o último gesto será sempre a preparação do testamento para as gerações seguintes, que deverão, por sua vez, proteger todo texto escrito encontrado em garrafas, em potes, em latas, “porque, desde tempos imemoriais, um preceito rabínico exige que se preserve de qualquer profanação o menor pedaço de pergaminho ou papiro no qual figure (...) o nome de Deus”.
O testamento de Rakover - “... um texto que teima em perder-se a cada vez que é reencontrado”, escreve Badde - não apenas sobreviveu em sua garrafa como correu o mundo: foi copiado, fotocopiado, presenteado, republicado, reescrito e mesmo venerado, tornando-se, além do símbolo da resistência e do sofrimento judaicos, um texto filosófico ímpar, um testemunho de experiência religiosa - madura, responsável e profunda. Yossel Rakover faz parte do pequeno grupo dos textos invencíveis: daqueles textos que precisamos oferecer, daqueles textos sobre os quais é custoso não escrever e não falar.
Ainda assim, a despeito de sua epígrafe, uma sombra permaneceu por muito tempo a pairar sobre o texto, como se o rasgasse pelo meio e o atingisse no cerne de sua autenticidade: quem foi Yossel Rakover? O autor empírico do texto, sendo aquele testemunho o relato de uma experiência real? Ou o judeu Rakover não passa de um personagem, um dos personagens mais vivos e trágicos já criados por um autor? A epígrafe citada, nesse caso, não seria nada mais que uma artimanha ficcional: a assim chamada, pela teoria literária, “ficção dos papéis achados”...
Comecemos a história, agora, de outra maneira, mais recuada: em alguma noite do ano de 1946, um outro judeu chamado Zvi Kolitz, então com 26 anos, sentado em sua mesa num quarto de hotel em Buenos Aires, escreveu, de uma tacada e em ídiche, o conto Yossel Rakover dirige-se a Deus. O texto foi publicado no mesmo ano, no dia 25 de setembro, Dia do Grande Perdão, no jornal diário Ídiche Zeitung, de Buenos Aires - assinado por Kolitz e com a denominação “conto” no cabeçalho, ou seja, publicado como uma obra de ficção. A partir desse ponto o texto inicia a sua série de estripulias: “... exatamente ao contrário do drama de Pirandello”, diz Badde, “no qual seis personagens estão em busca de um autor, essa história tenta, rápida e insistentemente, descartar-se de seu autor”. E assim foi: a biografia de Zvi Kolitz nunca teve fôlego suficiente para sequer chegar perto da brilhante e poderosa trajetória que seguiu a biografia de seu personagem Yossel Rakover de Tarnopol, que, à beira da morte, ousou dirigir-se a seu Deus, de igual para igual, e o fez através de um dos mais belos e verdadeiros textos já escritos — “... tão verdadeiro quanto só a ficção pode sê-lo”, diz Emmanuel Levinas em seu ensaio.
O jovem Zvi Kolitz nunca foi propriamente um escritor. Nasceu em 1919 em Alytus, uma vilazinha da Lituânia, às margens do Niémen. A Lituânia judia era, antes da guerra, mais que um Estado; era, nas palavras de Kolitz, “um estado de espírito”, e foi lá, mais que em qualquer outro lugar, que o sionismo cresceu, de fato, cultivado e produtivo. Diz o próprio Zvi Kolitz, de sua vilazinha, que lá “viviam seis mil judeus e nenhum deles era inculto”. Na Lituânia, diz-nos Paul Badde, informado por Kolitz, cujo pai era rabi e talmudista reputado, lia-se e estudava-se, em ídiche, Homero, Dante, Shakespeare, Goethe, Púschkin, Hegel, Dostoiévski, Kafka, Tchékhov, Nietzsche e mais uma boa turma de clássicos literários e filosóficos. A Lituânia, hoje, passada a guerra e passada a destruição iniciada pelos russos e terminada em banhos de sangue pelos alemães, não é muito mais que isso: um estado de espírito. A cidade natal de Kolitz, Alytus, foi durante a guerra um dos focos da carnificina operada pelos nazistas: “A pequena Lituânia destacou-se uma última vez no mundo judeu”, escreve Badde, “mas agora pela amplitude de sua destruição”.
Mas Kolitz não esperou para ver nada disso: viajou pela Europa e, em 1940, já estava em Jerusalém, onde ingressou no movimento Jabotinski, pela criação de um Estado judeu, e também no Irgun, uma organização clandestina. “Sim”, diz Badde, “Zvi Kolitz era um extremista”. E, como todo extremista clandestino que se preze, Kolitz viveu sua vida dupla: na condição de elemento do Irgun aconteceu-lhe algumas vezes ser preso; como membro do movimento Jabotinski, pôde alistar-se em 1942 nas fileiras do exército britânico. Estava-se em meio à guerra. Kolitz torna-se oficial recrutador-chefe e viaja meio mundo engrossando as fileiras britânicas com judeus engajados.
É finda a guerra, e com ela a Lituânia, onde Kolitz nunca mais quis colocar os pés. É finda a guerra mas o jovem combatente extremista e cheio de fé continuou a sua batalha particular contra toda a forma de fascismo e contra o messianismo ateu que ele vislumbrava na doutrina leninista. “Sem Deus tudo é possível”, repetia Zvi, citando o pai, que por sua vez citava Dostoievski... Zvi recusava-se a esquecer as atrocidades, não apenas de Hitler, mas também de Stálin, e não abandonava o sonho da criação de um Estado judeu. Continuava firme em sua vida dupla - Jabotinski & Irgun -, e essa mesma vida acabou por levá-lo, em julho de 1945, justamente ao Brasil: uma informação que o relato de Paul Badde omite, mas que o belo ensaio “Deus Absconditus”, de Nachman Falbel, professor da USP, felizmente traz à tona. Kolitz teria ficado no Brasil por aproximadamente um ano, reunindo-se e pronunciando conferências sobre problemas judaicos. Em seguida, em 1946, como delegado do Congresso Sionista, rumou para Buenos Aires, onde, em meio a duas palestras, foi interpelado pelo diretor de um diário local, o Ídiche Zeitung, que lhe pediu um texto para o seu número sobre o Iom Kipur. Zvi respondeu: “Sim, tenho alguma coisa em mente da qual há muito tempo gostaria de me desembaraçar”. E assim o fez, provavelmente influenciado por alguns textos descobertos pouco depois da guerra, entre eles a Crônica do gueto, escrita por Emmanuel Ringelblum, e o Canto do povo judeu assassinado, do poeta Itzhak Katzelnelson. Os dois textos descobertos estavam enterrados dentro de garrafas e latas de leite...
“Kolitz não viu com os próprios olhos nada daquilo que agora vai pôr no papel”, escreve Badde, e mesmo assim lança ele a sua garrafa, o seu desabafo e o seu protesto - não para as gerações futuras ou para os autores das atrocidades, como era a sua intenção inicial: “O seu lamento (...) mudou de maneira brusca e radical de destinatário”, diz Badde, pois Yossel Rakover vai dirigir-se, sem qualquer sentimento de inferioridade ou temor, justamente a Ele, a quem faz questão de pedir esclarecimentos.
O texto sai no Ídiche Zeitung de 25 de setembro de 1946 e só vai voltar à tona sete anos depois, quando uma revista de Tel-Aviv o recebe da Argentina, com poucas e decisivas alterações: sob o título Testamento escrito no gueto de Varsóvia e sem a referência do jornal original, sem o nome de Zvi Kolitz e, principalmente, sem a menção “conto”. Um ano depois, em 1954, uma grande revista trimestral escrita em ídiche o republica como sendo um “documento autêntico”. Yossel Rakover torna-se, a partir desse ponto, muito mais verdadeiro e tangível que o próprio Kolitz, soterrado e morto pela força trágica de seu personagem. O texto cresce poderosamente e começa a ser traduzido e republicado em vários meios de imprensa, com abundância de comentários e louvores e sempre lido como um documento verídico: Thomas Mann descreve-o como “um emocionante documento religioso e humano”; Rudolf Krämer-Badoni chega a “responder” ao tal Yossel Rakover, “cujas cinzas”, diz Badde, “ele acreditava misturadas às de Varsóvia”; o filósofo Emmanuel Levinas dedica-lhe um maravilhoso e imparafraseável ensaio.
Contudo, em meio a todo o êxtase religioso-filosófico-literário provocado pelo texto, algumas cartas chegavam às redações, aqui e ali, de um certo senhor Kolitz, que - imagine-se! - reivindicava, o pobre homem!, a autoria do grande Yossel Rakover dirige-se a Deus... “Como! Esse desconhecido, esse simples mortal que, para começar, está vivo e além disso nunca pôs os pés em Varsóvia!”, conta Badde. “Quem era ele e como poderia provar?”, era o que se ouvia com indignação. Kolitz conseguiu com alguma dificuldade recolocar seu nome ao lado do de Yossel Rakover, mas, ainda assim, muitos não se convenciam de que o judeu Rakover não passava de uma (mera) criação literária, e chegavam mesmo a afirmar que, embora a autoria do texto fosse, vá lá!, de Kolitz, o autor efetivamente havia conhecido em Varsóvia um certo Yossel Rakover, realmente morto nas chamas... Quando a autoria do testemunho de fato se verificou e não havia mais dúvidas de que era Kolitz a origem, muitos se revoltaram, chamando o texto, “o texto mais comovente e mais lancinante” já escrito, de uma falsificação. Outros, precisamente por isso, mais ainda o admiraram...
Mas não se trata, evidentemente, de ser o texto mais ou menos legítimo por ter sido escrito por alguém que tenha ou não vivido os acontecimentos que lá se descrevem. O nervo exposto do testemunho de Yossel Rakover é o próprio Deus, acusado de ter escondido a próprio rosto e assim abandonado os Seus filhos aos seus instintos, acusado de sonegar esclarecimentos aos homens de fé, acusado de não perdoar àqueles que se afastaram de Sua graça, acusado de coroar a própria grandeza “ao tolerar o suplício dos inocentes”, acusado de estar todo o tempo a colocar os homens à prova. Yossel Rakover, irresignável, dirige-se ao seu “Deus Ausente” de igual para igual e pela última vez, reafirmando a própria fé e a terrível grandeza do “Deus Indiferente”. Rakover escreveria ainda muitas e sábias linhas de protesto e indignação, mas também de fidelidade e amor a Ele, não fosse a morte em chamas a rondar o gueto. Yossel Rakover dirige-se a Deus e, “graças a Deus”, morre. E não Lhe diz “Amém”.
15 de agosto de 2003
“Quando a amizade ainda era possível"
“Quando a amizade ainda era possível — Relação entre dois jovens,
um judeu e um ariano, permite compreender a Alemanha às vésperas do nazismo”, Caderno Idéias, Jornal
do Brasil, Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2003.
Resenha sobre o livro O reencontro, de Fred Uhlman, ed. Planeta.
Eu já resenhei aqui o livro-testemunho A noite, de Elie Wiesel, prêmio Nobel da Paz em 1986, e escrevi que nenhum relato acerca do Holocausto poderia ser desconsiderado, e com cada um deles teríamos de conviver, porque todos, em sua verdade básica, têm o mesmo direito de se constituir como memória coletiva e todos flutuam, legítimos, à mesma margem da História. A pequena novela O reencontro, de Fred Uhlman, parte do mesmo fundo temático — a campanha nazista e suas conseqüências — para contar uma outra história.
As semelhanças com A noite, de Wiesel, bem como as diferenças, são muitas. São ambos relatos curtos de duas vidas longas; são ambos narrados na primeira pessoa; são os dois protagonistas meninos entre quatorze e dezesseis anos; são os dois meninos judeus. Os autores já eram homens feitos quando se puseram a escrever os livros. A visão sobre o acontecido, bem como sobre a psicologia dos personagens, deveria ser retrospectiva e distanciada, mas não é. Em A noite e O reencontro, Wiesel e Uhlman conseguem aproximar ao máximo o menino que viveu do adulto que anos mais tarde está contando. É com os olhos do menino Wiesel que o homem Wiesel dá conta de sua tragédia; é com o coração do jovem Hans Schwarz que o sexagenário Fred Uhlman relembra os mais tocantes episódios de sua vida adolescente na Alemanha pré-nazista. É o narrador adulto a buscar o tom e o olhar próprios do menino de ontem.
As diferenças correm ao longo do texto, na própria história que contam os nossos moleques. Elie Wiesel narra a história de dentro do redemunho: em 1944, aos 16 anos, foi feito prisioneiro em Birkenau — e por Birkenau, Auschwitz, Buna, Gleiwitz e Buchenwald estiveram por um ano o menino Wiesel e seu pai. Fred Uhlman (1901-1985), bem mais velho que Wiesel, nasceu em Stuttgart e, em 1933, com 32 anos, deu o fora. Depois de muitas andanças, firmou pé na Inglaterra, e lá viveu a vida, advogou, escreveu e pintou. Escreveu O reencontro — nem totalmente autobiográfico, nem totalmente ficcional — em 1960, criando para seu alter ego o menino judeu Hans Schwarz. A história é simplesmente a de uma amizade, que não teria a metade de sua graça não fosse ambientada em Stuttgart justamente naquele início de temporada nazista: a caça aos comunistas e aos judeus começando a mostrar a cara; suásticas começando a pipocar aqui e ali, nas fachadas dos prédios; judeus começando a sofrer injúrias e agressões no meio da rua; a Alemanha começando a cheirar mal.
A história da amizade entre Hans Schwarz e Konradin von Hohenfels também não teria lá muita graça não fosse Hans um judeu como outro qualquer, filho de judeus e neto de rabinos, e seu amigo Konradin um nobre alemão do tipo assim denominado “puro”, cheio de antepassados importantes e imprescindíveis à formação da brava história alemã. Conheceram-se no colégio e, lentamente, se aproximaram: discutiam juntos os seus escritores, músicos e pintores preferidos, discutiam filosofia e a recente psicanálise e vez por outra pegavam os dois um trem e pernoitavam nalguma cidadezinha próxima a Stuttgart, onde arranjavam um “quarto limpo e barato, comida excelente e vinho da região”. Não, a amizade não descamba para alguma espécie de homoerotismo adolescente. Se há aqui uma sugestão, a história não a desenvolve. As energias de Hans estavam por demais concentradas em concretizar o que ele chamava o seu “ideal de amizade”, e o seu ideal de amizade significava antes de tudo uma verdadeira interlocução, que de fato ocorria quando os temas não passavam de literatura, música, arte e psicanálise. Quando Hitler e os seus planos para o futuro da Alemanha passam a figurar como o tema da conversa — ou, por outra, como o silêncio da conversa —, Hans e Konradin transformam-se no microcosmo de provavelmente muitos outros dramas semelhantes que explodiram quando explodiu a sandice nazi-fascista.
É este pano de fundo a força do livro: o desenvolvimento do nazismo, através da lenta, mas constante, adesão da sociedade civil à causa ariana e à desconfiança em relação aos judeus. Os comentários mais ou menos desinteressados de Hans acerca da ascensão de Hitler — uma figurinha ridícula que muitos judeus e alemães não levavam a sério — produzem sobre a leitura um curioso e incômodo efeito: estamos a acompanhar uma história que conhecemos muito bem, pelas mãos de um narrador que não a conhece nada. Uhlman, como se disse, procura narrar a partir da ótica de seu Hans Schwarz, e Schwarz, à época, não poderia conceber em sua imaginação o que faria mudarem de cor os ares de Stuttgart e o solo de toda a Europa.
Conseguir manter, nesse contexto histórico hoje tão conhecido e óbvio, o olhar ingênuo, otimista e levemente alienado de um narrador que não estava interessado em muito mais do que manter intactas uma amizade e a sua coleção de livros configura, antes de tudo, uma estratégia narrativa. O custo do emprego dessa estratégia é o aparente simplismo de todo o texto diante dos eventos narrados. Por que é aparente o simplismo? Porque do lado de cá de todo narrador há sempre, a atualizar e potencializar a narrativa, um leitor. E se ele conhece o contexto histórico do que lê e sabe identificar estratégias, esse leitor consegue converter ingenuidade, otimismo e alienação em seus opostos — consegue, assim, transformar o recurso ao simplismo em atitude crítica.
2 de agosto de 2003
“O desabafo velado na escrita de Kenzaburo Oe"
“O desabafo velado na escrita de Kenzaburo Oe — Autor japonês
mistura ficção e drama familiar em narrativa mal estruturada”, Caderno Idéias, Jornal do
Brasil, Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2003.
Resenha sobre o livro Uma questão pessoal, de Kenzaburo Oe, ed. Companhia das Letras.
Não se pode afastar com a mão a vida pessoal de Kenzaburo Oe quando o assunto é literatura. Dois de seus mais conhecidos romances — Uma questão pessoal (A Personal Matter, 1964) e Um grito silencioso (The Silent Cry, 1967) —, escritos nas idades de 29 e 32 anos, tematizam a mesma desgraça: o nascimento de uma criança com graves deformidades relacionadas ao cérebro. Oe enfrentou o problema com seu filho Hikari. O jovem Bird, protagonista de Uma questão pessoal, não chegou a enfrentar o problema desde o início. Assim que recebeu a notícia, pelos médicos, de que o seu primeiro filho havia nascido com uma espécie de protuberância encefálica refletida sobre a forma da caixa craniana — em outras palavras, uma quase segunda cabeça a despontar por detrás, sumiu por uns tempos, começou a encher a cara, abandonou o emprego e arranjou uma amante. Arranjou também uma maneira de desaparecer com a criança-monstro de suas vistas e de sua vida, facilitando a morte do bebê por inanição lá mesmo na maternidade. Mas o bebê, para o seu desespero, não morria, sequer se enfraquecia: crescia a olhos vistos, ele e a sua segunda cabeça.
Kenzaburo Oe nasceu em 1935, em uma vila, Ose-mura, encravada em meio à floresta de Shikoku, uma das quatro principais ilhas do Japão. Escreveu muitos livros, entre eles Bud Nipping, Lamb Shooting, em 1958, seu primeiro romance; The Youth Who Came Late, em 1961; Hiroshima Notes, em 1965, uma coleção de ensaios acerca da catástrofe atômica sobre Hiroshima e Nagasaki (e sobre todos nós); Teach Us To Outgrow Our Madness, em 1969, uma coleção de pequenas histórias; My Deluged Soul, em 1973; além de The Pinch Runner Memorandum; Japan, the Ambiguous, and Myself e The Crazy Iris and Other Stories, e muitos outros textos não traduzidos.
Oe diz que Uma questão pessoal representou, antes de tudo, um manual de sobrevivência, um método para poder lidar com a realidade de um filho doente. O livro, no entanto, saiu do tom: tornou-se mais um desabafo que um método — um desabafo angustioso e apressado. O texto não apresenta as marcas explícitas e inequívocas de uma narrativa autobiográfica clássica, muito pelo contrário: a enunciação dá-se na terceira pessoa e o personagem-protagonista, Bird, em nenhum momento dá sinais de que seja um escritor ou pretenda ser, ou mesmo de que esteja ou pretenda estar envolvido com a escrita de sua história. Não se trata, portanto, formalmente, de uma narrativa confessional. Não há como saber, inclusive, senão por vias extra-ficcionais — a contracapa, as orelhas do livro e outras fontes de informação biográfica —, que o autor sofreu na vida o revés que conta na história. Por onde se manifesta, então, essa angústia confessional? Pela velocidade, pelo tom e pelas prioridades da voz que narra. O modo de contar o infortúnio de Bird carrega em si uma urgência expiatória. O narrador perde-se em explicações e detalhes sem importância e abusa ansiosamente de seu direito de definir e resumir situações e personagens. O resultado: o leitor não encontra espaço ou tempo para tirar por si mesmo suas conclusões.
Um exemplo: “Maldito médico peludo! (...) Se é assim que esse sujeito costuma demonstrar seus sobressaltos, pensou Bird, vou esperá-lo no escuro com um cacetete e fazê-lo rir muito mais alto! Foi, contudo, uma reação infantil e momentânea. Bird sabia que não poria as mãos em nenhum cacetete, nem se postaria em nenhum canto escuro para tocaiar o médico. Não podia deixar de reconhecer que estava sem autocontrole, fundamental quando se quer castigar quem quer que seja”. O narrador poderia ter parado muito antes e assim poupado o leitor das obviedades que se seguiram ao desabafo de Bird.
Se o livro sofre, por um lado, de redundância narrativa, sofre, por outro, de deficiência estrutural. Durante os mais ou menos quinze dias que compõem a sua história, ou durante as 220 páginas que fazem o livro, não ficamos sabendo praticamente nada da mãe do bebê, ou do casamento de seus pais — no máximo que não eram sexualmente felizes. Também muito pouco sabemos de algum outro personagem da história — o pouco em questão reduzindo-se apenas ao que diz respeito a Bird e ao seu problema. É ele o centro do livro, é ele a mira do narrador, embora haja dele muito pouco a dizer, a não ser isto: que tem um filho com problemas e está doido para ir para a África. Por que a África? Também isto não decola. Não se sabe nada das razões pelas quais Bird quer ir para a África, a não ser isto: ir para a África sempre foi o seu sonho, ou seja, não se sabe nada. Bird é superficial, imediatista e muito pouco inteligente. Não há possibilidade alguma de se estabelecer qualquer empatia pelo protagonista. Bom, pode-se dizer: está aí um mérito da narrativa, ou seja, Oe conseguiu criar um personagem a tal ponto insuportável que desperta angústias no leitor. Isto é, por si, um feito literário? Não, não é. É muito fácil detestar Bird: ele não apresenta nenhuma faceta que o torne minimamente complexo; ele é esquemático, simplista e, afinal, quer matar o próprio filho. E a literatura está povoada de personagens superficiais, imediatistas e pouco inteligentes. O problema é o modo através do qual se apresenta e se narra esse personagem, Bird é tratado pelo narrador de modo superficial, imediatista e muito pouco inteligente.
Kenzaburo Oe, provavelmente para resguardar-se do tom confessional e praticar, assim, supostamente, um distanciamento produtivo em relação à sua própria história de vida, optou por um narrador externo à trama. Uma pena. O texto teria outra dinâmica se levado a cabo sob a mão de um narrador na primeira pessoa. O narrador de Oe, apesar de funcionar na terceira pessoa e apresentar um ar de onisciência, não abandona em nenhum instante a perspectiva de Bird. É este o outro erro estrutural do romance: o narrador nem exercita a plena capacidade narrativa de um narrador em terceira pessoa que pode, se quiser, lançar mão de sua onisciência, nem consegue entrar de modo certeiro na consciência de Bird. O narrador, dividido, permanece a meio caminho, vacilante e tagarela.
O romance Uma questão pessoal pode até revelar-se comovente se lido como um desabafo ou uma maneira de resolver, pela escrita, um problema íntimo. Ao final, contudo, não é muito mais que isso: uma questão pessoal que não conseguiu reunir em si o ritmo, a graça e a força de uma boa história. Kenzaburo Oe ganhou o prêmio Nobel de Literatura em 1994.
Assinar:
Postagens (Atom)