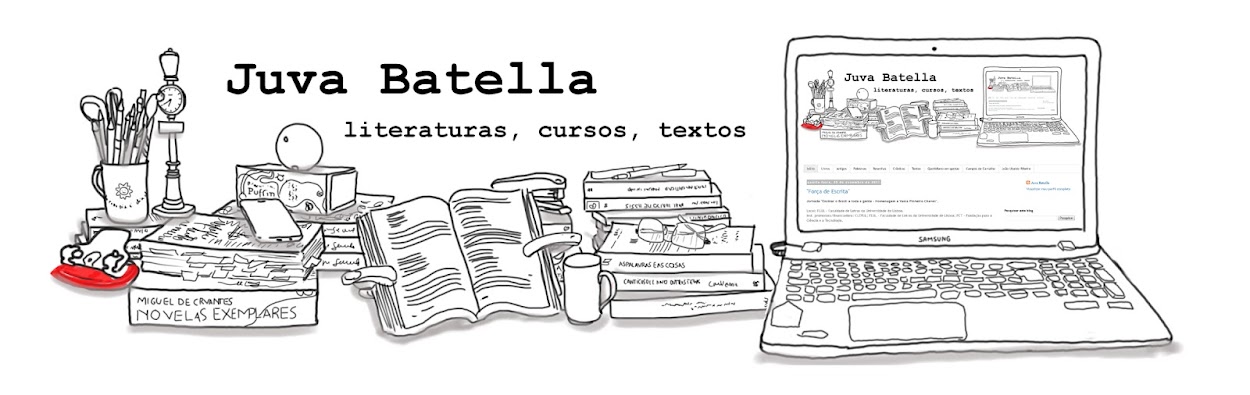"E o futuro é uma astronave
que tentamos pilotar.
Não tem tempo,
nem piedade,
nem tem hora de chegar.
Sem pedir licença
muda nossa vida
e depois convida
a rir ou chorar."
Aquarela (Toquinho, Vinicius de Moraes, G. Morra, M. Fabrizio)
21 de fevereiro de 2009
20 de fevereiro de 2009
"A morte das pessoas"
Refiro-me à morte das pessoas verbais, que isto esteja desde já claro, e uso este título porque foi assim que um amigo abordou o tema num encontro ao fim da tarde numa varanda aqui em Santo Amaro de Oeiras. "As pessoas estão a morrer", começou ele. E eu disse: “Pois, e há muito tempo…”. “As pessoas verbais.” “Ah…”, disse eu, e rimos. Ele se referia não à morte não do eu, que este não morre nunca, mas à do tu, do nós, do vós (este já bastante morto, se é possível uma pessoa estar bastante morta), e às vezes até mesmo do eles. Decido então começar a discussão discordando. Gosto muito de discordar deste amigo, porque uma discordância, com ele, conduz a uma bela conversa, uma acalorada discussão civilizada durante a qual eu posso observar o seu raciocínio em ação. Trata-se de uma pessoa, este amigo-irmão, bastante inteligente, suficientemente culta e implacavelmente lógica.
Ele se referia à morte das pessoas verbais no Brasil, e não em Portugal. “Em Portugal”, diz-me ele, “ainda se usam, e quotidianamente, o tu, o nós, o vós e o eles, mas no Brasil estão todas mortas, e com isso perdeu-se a riqueza da língua, e até mesmo a sua praticidade.” E continuou: “No Brasil, não se diz tu; diz-se você, e a conjugação do você equivale à conjugação da terceira pessoa, que é o ele. Você vai / ele vai. A conjugação vai é a da terceira pessoa”. “Mas o nós não morreu”, eu disse, tentando salvar a pátria. E ele me respondeu citando um exemplo. Uma amiga havia dito a ele: “Não, meu caro. O nós não morreu. A gente diz o nós. Veja: nós vamos. No Brasil, a gente usa o nós”. E ele então riu, apontando a ela, à amiga, o descuido: “Vê o que disseste: disseste: a gente usa. Não disseste: nós usamos; disseste a gente usa, ou seja, utilizaste novamente a conjugação da terceira pessoa: o ele. Ele usa; a gente usa”.
Tive de concordar, rindo e assistindo à vitoriosa risada dele a acompanhar a minha. “No Brasil”, prosseguiu o meu amigo, “só há o eu, o ele e o eles, e mesmo o eles já está a ser substituído por: o pessoal, ou a galera, e caímos novamente na conjugação da terceira pessoa: em vez de dizermos eles vão, dizemos; a galera vai, o pessoal vai.” Eu argumentei alegando que não se trata de perda de riqueza, mas de transformação da língua. E lembrei-me do inglês, que não é menos rico por haver apenas o I go, o you go (da segunda pessoa do singular), o you go (da segunda pessoa do plural) e o they go. É tudo go, com exceção do he-she, que é goes.
“Trata-se de outra língua. No caso do português, temos seis pessoas, tínhamos seis pessoas, e agora temos três. Isso é empobrecimento. Quanto usas todas as pessoas, muitas vezes nem precisas usar a cabeça da pessoa. Não precisas de perguntar: tu vais sair? Perguntas apenas: vais sair? Se usas a terceira pessoa, então a frase fica: vai sair? Quem? Ele ou você?”
Eu já nem estava disposto a continuar tentando argumentar, porque eu me via bastante enfraquecido dentro da discussão. Apenas disse que o português falado no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tinha se encaminhado para a chamada forma mista no tratamento. Usamos as formas da segunda pessoa do singular quando aplicamos os pronomes pessoais oblíquos — átonos ou tônicos. Então dizemos: eu gosto de você, quero te chamar pra dançar. Ou: venha dançar, quero dançar contigo. Está errado? De acordo com todas as gramáticas está errado, mas estará errado quando toda a gente estiver falando assim? Quando todas as literaturas que quiserem expressar este modo de falar simplesmente o reproduzirem em suas páginas? Estará errado quando os personagens, no cinema, assim falarem — personagens não necessariamente incultos ou excluídos das esferas pedagógicas? Ou estará também, dentro de um outro registro, certo, bem como continua certo o modo tradicional? Isto não é propriamente um conjunto de argumentos, mas pode ser visto como uma tentativa de coexistência das duas formas.
Acrescente-se a isso tudo o registro fonético de Portugal, bastante diferente do registro brasileiro. Os portugueses dizem: “Amo-te”, e enfatizam o “A”, que se torna a sílaba tônica da frase. Os brasileiros dizem: “Te amo” (e os baianos dizem: “Eu lhe amo”, bem como “eu lhe olho”, “eu lhe beijo, “eu lhe como”…), e sílaba tônica, aqui, está no pronome, que, por ser tônico, acaba iniciando a frase. O registro fonético brasileiro também torna mais dificultoso, ou pomposo, falar, como no exemplo que dei mais acima: “Eu gosto de você, quero chamá-lo para dançar”. Quero te chamar impõe-se, mesmo que configure aqui um erro de duplo uso pronominal.
Trata-se de uma só língua? Sim, mas somente na esfera das gramáticas, na esfera da forma escrita. A chamada língua falada, cada vez mais, conquista o seu status de segunda língua — o seu status de língua digna, também, de registro escrito. A língua tal como a falamos é a primeira língua, uma vez que a forma escrita não passa de uma forma, a posteriori, de registro; uma forma de organizar o caos da expressão oral. E a literatura vem, com cada vez mais intensidade, e menos pudor, registrando a língua falada, colocando-a na boca de personagens e mesmo na boca de narradores oniscientes clássicos.
Diz-se que não há nada pior que um personagem que tenha um caráter e um comportamento inverossímeis. Essa inverossimilhança pode ser fatal se for uma inverossimilhança também na sua forma de se expressar. Não sei como terminar isto, porque esta conversa não tem fim, e termino num rasgo de otimismo lingüístico (por quanto tempo ainda usarei o trema?), dizendo que tu morreste, vá lá, mas você não morreu; que nós morremos, mas a gente está vivo; que vós morrestes, mas vocês me parecem saudáveis; que eles podem até ter morrido, mas todo o mundo sabe que o pessoal vai bem — com pouco dinheiro, mas bem. E a língua? E o povo? “O povo é o inventalínguas na malícia da maestria no matreiro da maravilha no visgo do improviso…
17 de fevereiro de 2009
"Viagens"
“Quando os famas saem em viagem, seus costumes ao pernoitarem numa cidade são os seguintes: um fama vai ao hotel e indaga cautelosamente os preços, a qualidade dos lençóis e a cor dos tapetes. O segundo se dirige à delegacia e lavra uma ata declarando os móveis e imóveis dos três, assim como o inventário do conteúdo de suas malas. O terceiro fama vai ao hospital e copia as listas dos médicos de plantão e suas especializações.
Terminadas estas providências, os viajantes se reúnem na praça principal da cidade, comunicam-se suas observações e entram no café para beber um aperitivo. Mas antes eles se seguram pelas mãos e dançam em roda. Esta dança recebe o nome de Alegria dos famas.
Quando os cronópios saem em viagem, encontramos os hotéis cheios, os trens já partiram, chove a cântaros e os táxis não querem levá-los ou lhes cobram preços altíssimos. Os cronópios não desanimam porque acreditam piamente que estas coisas acontecem a todo o mundo, e na hora de dormir dizem uns aos outros: “Que bela cidade, que belíssima cidade”. E sonham a noite toda que na cidade há grandes festas e que eles foram convidados. E no dia seguinte levantam contentíssimos, e é assim que os cronópios viajam.
As esperanças, sedentárias, deixam-se viajar pelas coisas e pelos homens e são como as estátuas que é preciso ir ver porque elas não vêm até nós.”
Julio Cortázar, "Viagens", in Histórias de Cronópios e de Famas, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972.
22 de janeiro de 2009
'A travessura possível'
Congresso Internacional de Promoção da Leitura (22 e 23 de janeiro de 2009).
Fundação Calouste Gulbenkian & Casa da Leitura.
Fundação Calouste Gulbenkian & Casa da Leitura.
11 de dezembro de 2008
“João Ubaldo Ribeiro e Portugal”
Conversa: Viva João Ubaldo Ribeiro, Prêmio Camões 2008.
Fnac & CAL - Casa da América Latina.
Fnac Chiado.
Fnac & CAL - Casa da América Latina.
Fnac Chiado.
19 de setembro de 2008
"Ulisses: uma temporada no inferno"
Andei lendo bastantes livros
ultimamente, procurando nos livros um bocado da ação e da aventura que não
encontro lá tanto assim aqui em Santo Amaro... E das coisas mais gostosas que
há no mundo é terminar um livro e sair andando pela biblioteca da casa à
procura do próximo. Fico às vezes um ou dois dias nessa procura, excitadinho, como
um menino que acabou de aprender a ler. Vou folheando alguns e dizendo para mim
mesmo e para ele, o folheado: “Não, ainda não é o momento para ti, talvez algum
dia, quem sabe...”. E recoloco-o no lugar, o preterido, para partir em busca de
um outro, com o qual flerto com simpatia, uma simpatia tamanha que quase vejo o
livro alvoroçar-se na estante, à espera de ser ele o próximo escolhido, de ser
ele a sair daquele aperto cruel da prateleira, cada vez mais apertada, e gozar
da liberdade de andar por aí por Santo Amaro, carregado por mim para lá e para
cá, acompanhando-me por alguns dias, ora no meu colo, ora na minha mesa, ora no
meu carro, ora na rede da minha varanda — aquele que irá, de certeza, toda
noite para a cama comigo.
Fiz todo esse
caminho de flertar com as estantes, fazer a minha escolha e iniciar com um
livro um relacionamento estável (leia-se: ler a criatura de cabo a rabo) em
cima dos seguintes títulos, ao longo de 2007: Pelos olhos de Maisie, do Henry
James; Bouvard e Pécuchet, do Flaubert; Sábado, do Ian McEwen; Complexo de
Portnoy, do Philip Roth; A cidade e as serras, do Eça de Queirós: e Ulisses, do
James Joyce. Tenho de me conter porque senão falo de todos — não uma crítica
literária coesa, coerente, redondinha, enfim (tarefa assaz trabalhosa), mas uma
conversa de mesa de jantar, cheia de “achei isto”, “achei aquilo”, “não gostei
disto”, “não gostei daquilo”.
O ritmo de leitura até que não
estava mal. Mas quando peguei no Ulisses foi como se o peso às minhas costas
duplicasse e a velocidade, assim, caísse. Carregar aquelas 815 páginas para
todo canto já foi uma tarefa. Lê-lo foi como deambular pelo inferno com os olhos
vendados. A culpa foi da minha mulher, que me disse, justamente quando estava
eu nesses passeiozinhos de prateleira e calhou-me de retirar do aperto da letra
“J” o famosíssimo e aclamadíssimo romance, do qual, como disse o T. S. Eliot,
“jamais escaparemos”. Eu disse ao livro: “Um dia ainda te pego...”, e olhei
para ela, que me disse: “Acho que já são horas. És um escritor, és um doutor em
Literatura, já são mesmo horas de pegares o Ulisses...”.
Aquilo foi, e ela sabe
disso, um desafio. E eu, para impressionar a minha mulher (não se deve perder
uma única oportunidade de impressionar uma mulher), disse, valentão: “Está
certo. Vou iniciar esta viagem”. Sentei-me e abri a primeira página,
excitadíssimo porque eu sabia que iria até o fim e não faria como das outras
vezes, em que o abri, li a primeira página, soltei uma risadinha e voltei a
fechá-lo, dizendo para mim mesmo: “Não, isto não é para o seu bico...”. Não foi
o bico que cresceu; foi o destemor, ou, em outras palavras, foi o livro que
diminuiu. Tive de o diminuir, retirando-lhe todo aquele caráter assustador e
glorioso.
A tarefa durou sete meses, da
primeira à última página. Mas eu, que não sou bobo, entrei no livro munido de
algumas armas: as notas explicativas da professora Bernardina, a tradutora; um
livro do Nabokov, Aulas de literatura, em que dedica umas boas cem páginas ao
Ulisses; um livro do crítico Edmundo Wilson, O castelo de Axel, em que também
dedica páginas e páginas a tentar amolecer e domesticar o livro, e mais um
sem-número de artigos colhidos na internet. Tenho aqui no blogue, ao lado, um
link (Ulysses
for Dummies) dedicado ao Ulisses.
Terminei-o enfim, e confesso duas
coisas: que houve momentos (vários), em que achei aquilo a coisa mais chata do
mundo; e outros (raros, mas de uma intensidade literária total), em que o
considerei único, dizendo a mim mesmo que nunca na vida iria encontrar espécime
sequer semelhante. Mas por que é que o li? Antes de tudo por se tratar de um
fetiche. Depois, por uma questão de curiosidade literária. Este livro está em
todas as listas que se fazem dos melhores livros de todos os tempos. Não sei
quanto dura este “de todos os tempos”, porque hoje em dia há livros escritos
com desconcertante originalidade, não apenas temática mas formal. Gostaria de
voltar e esse assunto do Ulisses, com mais vagar. Li-o, afinal, pensando em
colocar aqui no blogue algumas coisas ótimas. Li-o como se deve ler um livro de
que se gosta: com uma caneta na mão para fazer frente à borracha da memória.
Assinar:
Postagens (Atom)